Fui entrevistar o Rui Veloso
Oiço-o desde que me lembro, como quase todos nós. E há relativamente pouco tempo tive a sorte (sorte é palavra pequena para o descrever) de ir conversar com ele para a publicação onde trabalho.
Recebeu a equipa, eu, o Miguel e o João, no seu
estúdio-casa em Vale de Lobos, ali para os lados de Sintra. Estava sozinho e
com alguma pressa. Tinha ensaio marcado com a sua banda. Sagrado.
Mesmo assim, tive tempo,
como uma fã esgrouviada das antigas, de pedir-lhe um autógrafo numa velha
canção dele e do Carlos Tê, datada de 1991, tinha eu dez anos, ‘A paixão
(Segundo Nicolau da Viola)’, com erros ortográficos e tudo. Ele olhou e disse:
«Isso já foi há 30 anos! Há tanto tempo!» E decidiu assinar num canto, para
não, imagine-se, (glup), estragar a folha. É esta a humildade e grandeza que
trago da entrevista com o Rui Veloso – além de tudo o que ele disse, é claro.
Da sua honestidade tranquila. De as músicas deixarem de ser dele a partir do
momento em que se tornam nossas.
Essa que ele assinou, A Paixão, é nossa, minha e da Emita. Acalma-a, quando está difícil. E foi também, há muitos anos, era eu uma gaiata de dez anos, precisamente, nossa, minha e do meu pai, a outra única pessoa do mundo que gostava de ouvir-me cantar, em longas tardes no mato quando íamos cortar lenha. Anos mais tarde, também foi nossa, outra música dele, a Não há estrelas no céu, teria eu uns 16 ou 17 anos. E o tio Rui teve «o gozo supremo de a ver nascer», como disse naquela tarde.
O resto de nós só pode agradecer. O facto de ele ouvir os sons e estar disponível para os transformar numa beleza imensa. Ninguém nos ensina a ser velhos. E isso é mesmo uma grande chatice. Mas há formas e formas de por cá andar nesta terra. E de dar ao mundo.
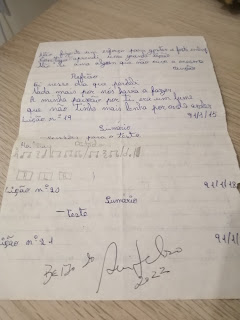


Comentários
Enviar um comentário